Validade Jurídica dos Smart Contracts: Comparação Internacional entre Brasil, EUA e União Europeia
DIREITO DIGITALATUALIZAÇÕESTENDÊNCIASNOTÍCIAS
Ricardo Gonçalves
7/12/202517 min read

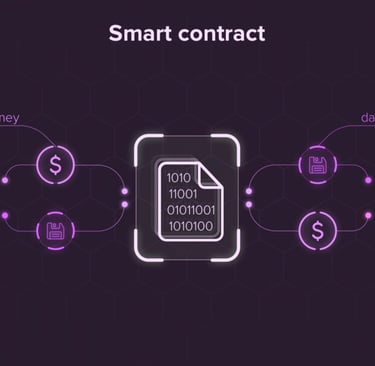
Introdução
A blockchain é uma tecnologia de registro distribuído (Distributed Ledger Technology – DLT) que transformou a forma como armazenamos, verificamos e protegemos informações. Em vez de depender de uma autoridade central, a blockchain distribui cópias de um livro-razão entre milhares de nós (nodes), validando transações por consenso. Cada bloco recebe um carimbo de tempo (timestamp) e gera um hash (identificador criptográfico) a partir do SHA-256 aplicado ao seu conteúdo e ao hash do bloco anterior. Essa estrutura torna alterações retroativas virtualmente impossíveis e dá base à implantação dos smart contracts.
Smart contracts são programas autoexecutáveis na Ethereum Virtual Machine (EVM) ou em outras máquinas virtuais de blockchain. Eles codificam cláusulas contratuais em funções e variáveis, armazenam estado on-chain e disparam ações — pagamentos, transferências de tokens, liberação de ativos — assim que condições predefinidas ocorrem. O custo de execução conhecido como "gás" (gas), quitado em criptomoeda, o que previne abuso de recursos. Essa arquitetura promete automação, redução de custos e maior transparência, mas impõe desafios técnicos e exige respaldo jurídico claro.
Este artigo compara o tratamento dos smart contracts em três jurisdições principais: Brasil, Estados Unidos e União Europeia. A partir das normas vigentes, das primeiras decisões judiciais e da literatura especializada, buscamos mapear convergências, lacunas e boas práticas que auxiliem operadores do Direito a integrar código e norma de forma segura e eficaz.
Blockchain: segurança e imutabilidade
A confiabilidade da blockchain apoia-se em três elementos essenciais: a função de hash criptográfico, o mecanismo de consenso descentralizado e a replicação distribuída do ledger. Cada bloco contém registros de transação, um timestamp e dois hashes: o próprio, gerado por SHA-256 sobre cabeçalho e corpo; e o do bloco anterior, formando uma sequência imutável. Alterar um bloco exige recalcular todos os hashes subsequentes — tarefa impraticável em redes públicas consolidadas.
Para incluir novos blocos, as redes públicas adotam Prova de Trabalho (Proof of Work – PoW) ou Prova de Participação (Proof of Stake – PoS). No PoW, mineradores competem para resolver puzzles criptográficos, consumindo energia e ciclos de CPU/GPU. No PoS, validadores travam tokens como garantia (stake), e a chance de validar é proporcional ao montante apostado. Ambos os métodos alinham incentivos econômicos para manter a honestidade da rede. Em blockchains permissionadas (Hyperledger Fabric, Corda), nós credenciados validam transações de forma mais eficiente, mas com menor descentralização.
A replicação do ledger entre nós geograficamente dispersos garante resiliência: se parte da rede falhar ou for atacada, o restante segue processando blocos válidos. Essa descentralização elimina pontos únicos de falha e fundamenta a integridade de dados e contratos codificados na blockchain.
Smart Contracts: conceito e relevância
Smart contracts são programas escritos em linguagens específicas para blockchain, como Solidity. Essa linguagem de alto nível permite descrever contratos em sintaxe próxima a outras linguagens de programação, mas voltada à Ethereum. Quando compilamos um contrato em Solidity, um compilador converte o código-fonte em bytecode, que é o conjunto de instruções de máquina que roda na Ethereum Virtual Machine (EVM). A EVM é o ambiente de execução — uma máquina virtual descentralizada — que interpreta esse bytecode e faz com que todos os nós da rede processem a mesma lógica.
No código do smart contract, há variáveis de estado, isto é, espaços de armazenamento que guardam informações como saldos de tokens ou marcadores que indicam se determinada condição já foi cumprida. As funções são blocos de código que alteram essas variáveis de estado ou disparam ações previstas no contrato. Para chamar uma função, o usuário envia uma transação: mensagem criptografada que contém dados e um valor de criptomoeda. Essa transação é assinada digitalmente com a chave privada do usuário, provando sua identidade e consentimento sem expor a chave em texto claro.
Cada operação executada na EVM exige o pagamento de gás (gas), unidade de medida do custo computacional. O gás previne loops infinitos — trechos de código que nunca terminam — e abusos de recursos, pois quem envia a transação deve pagar o valor correspondente ao trabalho realizado pelos nós da rede.
Entre os usos mais comuns estão:
Escrow financeiro: mecanismo em que fundos ficam retidos até o cumprimento de condições, evitando necessidade de intermediário.
Seguros paramétricos: contratos que pagam automaticamente quando parâmetros externos (por exemplo, volume de chuva medido por sensores) atingem certo limite.
Micropagamentos em cadeias de IoT (Internet of Things): transferências de centavos entre dispositivos conectados para serviços de dados ou energia.
Governança de DAOs (Decentralized Autonomous Organizations): entidades cujas regras de voto e distribuição de recursos estão codificadas e executadas pela própria blockchain.
A transparência on-chain significa que todas as transações e o bytecode do contrato ficam registrados de forma pública no ledger. Ferramentas chamadas de exploradores de blockchain — como o Etherscan — exibem esses registros, facilitando auditoria e perícia técnica.
Traduzir cláusulas jurídicas complexas em código exige auditorias especializadas. Há ferramentas de análise estática, que examinam o código sem executá-lo (por exemplo, Slither), e de análise dinâmica, que testam o contrato em ambiente controlado (por exemplo, MythX). Essas ferramentas detectam vulnerabilidades comuns, como reentrancy (quando um contrato pode ser chamado recursivamente de forma indevida), integer overflow (estouro de variáveis numéricas) e falhas de access control (controle de acesso indevido).
Contrariando a imutabilidade natural dos contratos na blockchain, implementam-se padrões de upgradability, permitindo atualizar a lógica sem perder o histórico de dados. O Proxy Pattern cria um contrato “proxy” que delega chamadas a uma versão atualizável do contrato real, enquanto o Beacon Proxy usa um contrato “farol” (beacon) para apontar a implementação vigente. Ambos aumentam a flexibilidade, mas elevam a complexidade e exigem cuidado extra em segurança.
Para conectar contratos ao mundo real, utilizam-se oráculos (oracles) — serviços que fornecem dados externos à blockchain. O Chainlink, por exemplo, é uma rede descentralizada de oráculos que agrega informações de múltiplas fontes (preços de ativos, índices climáticos etc.) antes de enviá-las on-chain. Avaliar o grau de descentralização e a segurança dessas múltiplas fontes é crucial, pois oráculos centralizados podem se tornar pontos únicos de falha.
A grande vantagem dos smart contracts está na automação confiável e auditável, que reduz atritos e custos de intermediação. Ainda assim, seu uso seguro depende de rigor técnico — auditorias, testes e práticas de upgradability — e de respaldo jurídico que reconheça a força probatória e a executividade de acordos codificados.
Panorama Jurídico Comparado
No Brasil, a Lei n.º 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) reconheceu no art. 3º, X, que “instrumento eletrônico” – todo dado, texto, voz, imagem ou registro em meio digital – produz efeitos jurídicos equivalentes aos de documentos em papel. Esse reconhecimento foi aprofundado pelo Decreto n.º 10.278/2020, que estabelece que documentos eletrônicos assinados com certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) gozam de presunção legal de autenticidade e integridade, dispensando reconhecimento em cartório. Hoje, a ICP-Brasil opera como infraestrutura de chave pública (PKI) hierarquizada, em que autoridades certificadoras emitem certificados digitais atrelados a chaves assimétricas, garantindo que a assinatura eletrônica só possa ter sido feita pelo titular da chave. Em tramitação no Congresso, o PL 954/2022 insere no Código Civil artigos específicos para “contratos estruturados em plataformas tecnológicas”, definindo obrigações de autoexecução por meio de blockchain e exigindo cláusulas de fallback — isto é, mecanismos jurídicos alternativos para casos de erro de programação ou falha de oráculo.
Em sede jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.920/DF (julgado em 2018), reconheceu contrato eletrônico assinado digitalmente via ICP-Brasil como título executivo extrajudicial, desde que comprovada a integridade do documento por meio de carimbo de tempo eletrônico e a autenticidade da assinatura pela cadeia de certificação. O tribunal assentou que a assinatura digital ICP-Brasil supre a necessidade de firma reconhecida em cartório e que o registro eletrônico tem força probatória plena. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que questionaram normas sobre digitalização de procedimentos administrativos, reafirmou a equivalência probatória dos documentos eletrônicos, declarando constitucional a validade de atos e contratos celebrados exclusivamente em meios digitais.
Nos Estados Unidos, o arcabouço de registros e assinaturas eletrônicas baseia-se no Uniform Electronic Transactions Act (UETA, 1999) e no Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act, 2000). O UETA, aprovado por quase todos os estados, define “electronic record” como qualquer informação guardada em formato eletrônico e “electronic signature” como símbolo ou processo eletrônico assinado pelo signatário, vedando que contratos eletrônicos sejam rejeitados unicamente por não estarem em papel. O ESIGN Act impõe requisitos de consentimento, atribuição de assinatura e retenção de registros, mas exclui expressamente testamentos, transações imobiliárias e atos de família do regime eletrônico. Em 2017, Nevada aprovou o SB 398, que introduziu no seu Revised Statutes (§ 719A) a definição de “smart contract” – contrato cujas cláusulas se autoexecutam por código em ledger distribuído – e dispensou tais contratos de licenças ou autorizações estaduais. Delaware atualizou seu General Corporation Law (Título 8, §§ 105–107) para prever que sociedades podem celebrar acordos digitais e smart contracts eletrônicos com eficácia plena, atribuindo-lhes os mesmos efeitos de documentos assinados manualmente.
Na União Europeia, o Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS) criou um mercado único de serviços de confiança eletrônica. O eIDAS distingue três espécies de assinatura: simples (sem presunção legal), avançada (vinculada de modo único ao signatário, capaz de detectar alteração posterior) e qualificada (baseada em certificado emitido por prestador qualificado – Qualified Trust Service Provider, QTSP –, e equiparada à assinatura manuscrita). Os atos delegados e de execução (Regulações 2015/1501, 2015/1502, 2015/1505 e 2015/1506) detalham os padrões técnicos para formatos de assinatura (XAdES, PAdES, CAdES), requisitos para carimbos de tempo (RFC 3161) e selos eletrônicos. Em Tele2/Watson (C-203/15 e C-698/15), o Court of Justice of the European Union (CJEU) reconheceu que registros certificados sob eIDAS têm presunção de integridade e autoria, enquanto em Fashion ID (C-40/17) o tribunal estabeleceu que provedores de serviços de terceiros podem ser corresponsáveis pelo tratamento de dados pessoais, reforçando as obrigações de transparência e consentimento em ecossistemas digitais.
Análise Comparativa
Nos três ordenamentos – Brasil, Estados Unidos e União Europeia – há reconhecimento da força probatória de registros eletrônicos, mas com nuances profundas em supervisão, formalidades, presunção de validade, segurança técnica e regimes de autoexecução. A seguir, exploramos em detalhes cada um desses aspectos comparados.
Em termos de supervisão regulatória, o Brasil adota um modelo centralizado por meio da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), gerida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Os certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras credenciadas pelo ITI conferem validade máxima a documentos eletrônicos, mas atualmente não há regras específicas para smart contracts em blockchain. A proposta do PL 954/2022 busca suprir essa lacuna, ao prever requisitos de oráculos e governança on-chain, mas segue em debate. Nos Estados Unidos, a supervisão é flexível e pulverizada: o UETA (Uniform Electronic Transactions Act) e o ESIGN Act garantem equivalência entre meios físico e digital sem exigir órgão central de certificação, apostando na autorregulação do mercado e na prova de intenção pelas próprias partes. Leis estaduais de vanguarda, como Nevada SB 398 e emendas em Delaware, consolidam ambiente inovador, porém fragmentado. Na União Europeia, o eIDAS (Regulamento 910/2014) instituiu regime harmonizado de serviços de confiança, com prestadores qualificados (QTSPs) sob supervisão estatal e auditorias periódicas de segurança, assegurando interoperabilidade transfronteiriça e uniforme aplicabilidade em todos os Estados‐Membros.
A presunção de validade e as formalidades exigidas para produzir efeitos jurídicos também variam. No Brasil, documentos eletrônicos assinados via ICP-Brasil gozam de presunção legal de autenticidade e integridade, equiparando-se automaticamente a originais em papel. No entanto, por não haver norma específica para smart contracts, sua autoexecução em blockchain carece de respaldo expresso, sendo tratada como instrumento eletrônico genérico. Nos EUA, UETA e ESIGN rechaçam a negação de contratos por estarem em formato eletrônico, desde que haja registro de intenção e consentimento, que se comprovam por meio de logs de transações criptografadas on-chain. Exceções expressas excluem testamentos, transações imobiliárias e atos de família. Na UE, o eIDAS distingue assinaturas eletrônicas simples, avançadas e qualificadas, conferindo presunção legal apenas à qualificada, que exige certificado emitido por QTSP e infraestrutura técnica que suporte padrões como XAdES, PAdES ou CAdES. Para contratos de alto valor, a escolha pela assinatura avançada ou qualificada define o grau de segurança e a velocidade de procedimentos judiciais ou arbitrais.
No campo da segurança técnica, o Brasil apoia-se na PKI hierárquica da ICP-Brasil, que liga certificados digitais a chaves assimétricas, atestando autoria e integridade. Entretanto, a ICP-Brasil não prevê trust services próprios para smart contracts, restando aos operadores tecnologia privada e auditorias independentes de código on-chain. Nos EUA, não há exigência de PKI estatal: empresas e consórcios de blockchain gerenciam chaves privadas em Hardware Security Modules (HSM) ou Key Management Systems (KMS), e soluções de mercado — como AWS KMS, Azure Key Vault — oferecem níveis variados de segurança e certificação. Já na UE, QTSPs devem cumprir a ISO/IEC 27001, praticar segregação de funções e permanecer sujeitos a auditorias semestrais. Essa certificação garante que trust services — assinatura eletrônica, selo eletrônico, carimbo de tempo — atendam requisitos rigorosos de disponibilidade, integridade e confidencialidade, fortalecendo a confiabilidade dos smart contracts que se apoiam em e-seals ou timestamps externos.
No quesito força executiva e autoexecução, o STJ brasileiro, no REsp 1.495.920/DF, já equiparou contratos eletrônicos assinalados por ICP-Brasil a títulos executivos extrajudiciais, permitindo execução de obrigações pecuniárias sem prévia sentença. Entretanto, essa executividade ainda depende de liquidação em juízo tradicional; não há reconhecimento expresso da “execução automatizada” diretamente na blockchain, algo que o PL 954/2022 objetiva viabilizar ao incluir dispositivos de autoexecução em plataformas tecnológicas. Nos EUA, cortes em Delaware e Nevada têm admitido o código on-chain como evidência fiel da vontade das partes, mas também recorrem a medidas judiciais clássicas para impor resultados — como ordens de injunção e execução de obrigações em moeda fiduciária. Até o momento, não existe poder judiciário que execute unilateralmente um smart contract on-chain. Na UE, os tribunais devem respeitar assinaturas qualificadas e carimbos de tempo, o que acelera procedimentos de tutela específica, mas a imposição de obrigações codificadas ainda se dá por via tradicional, apoiada na presunção de integridade conferida pelos trust services.
Por fim, as limitações e exclusões evidenciam preocupações comuns. Exceções de UETA e ESIGN abarcam testamentos, transações imobiliárias e atos de família, buscando resguardar o formalismo histórico nessas matérias. No eIDAS, embora não haja lista fechada de exclusões, Estados-Membros podem impor formalidades adicionais a contratos de alto risco (imobiliários, fianças bancárias, garantias financeiras complexas). No Brasil, o Código Civil vigente impõe requisitos gerais de forma em contratos específicos — como escrituras públicas de alienação imobiliária — que não se afastam automaticamente ao usarem blockchain; até que o PL 954/2022 seja aprovado, testamentos e atos de registro público continuarão fora do regime eletrônico. Essas restrições ressaltam que, apesar da automação potencial, o smart contract ainda convive com a tradição do formalismo jurídico, e deve ser projetado para contemplar cláusulas de fallback que permitam a observância de requisitos específicos em litígios ou auditorias.
Em síntese, a comparação revela que, embora todos os ambientes reconheçam registros eletrônicos, o grau de supervisão, requisitos formais, presunção de validade, segurança técnica e mecanismos de autoexecução divergem significativamente. O Brasil se apoia em autoridade central e aguarda norma própria; os EUA priorizam flexibilidade e autorregulação; a UE entrega um ecossistema robusto e padronizado, porém custoso e tecnicamente exigente. Compreender essas diferenças é essencial para estruturar smart contracts constitucionalmente válidos, tecnicamente seguros e juridicamente exequíveis em cada jurisdição.
Boas Práticas e Recomendações
Para garantir que smart contracts sejam seguros, executáveis e juridicamente sólidos, operadores do Direito devem articular de forma integrada controles técnicos rigorosos e dispositivos contratuais claros. Em primeiro lugar, a governança de código requer a adoção de testes estáticos e dinâmicos combinados. Testes estáticos, realizados por ferramentas como Slither, analisam o código-fonte em busca de padrões de risco (por exemplo, variáveis não inicializadas ou falhas de visibilidade de funções) sem executá-lo. Já testes dinâmicos, oferecidos por plataformas como MythX, simulam a execução do contrato em um ambiente controlado, injetando cenários de transação que podem revelar vulnerabilidades como reentrancy (chamadas recursivas indevidas) ou integer overflow (estouro de variáveis numéricas). Complementar esses testes com auditorias independentes de bytecode — revisão técnica feita por especialistas que examinam a versão compilada do contrato — é fundamental para detectar sutilezas que escapam ao olho humano ou às ferramentas automatizadas.
Embora a blockchain preserve a imutabilidade do código implantado, a lógica do contrato pode precisar evoluir. Para isso, adotar padrões de upgradability torna-se indispensável. No Proxy Pattern, um contrato “proxy” intermedia as chamadas de função e delega a execução ao contrato de implementação, cujos endereços podem ser alterados por um administrador, permitindo correções sem migrar dados históricos. O Beacon Proxy introduz um contrato “farol” (beacon) que armazena o endereço da implementação vigente; múltiplos proxies referenciam esse beacon, simplificando atualizações simultâneas de várias instâncias. Esses padrões reduzem o risco de asset lockup — ativos presos em contratos defeituosos — mas exigem controles de acesso robustos, definindo quem pode alterar referências e como se documentam essas alterações.
Nenhuma automação substitui completamente a segurança jurídica de cláusulas de fallback. É recomendável incluir no contrato em linguagem natural uma previsão clara de que “o código prevalece para execução automática, mas, em caso de falha técnica ou conflito, as partes se submetem à arbitragem” ou ao foro físico escolhido. A arbitragem, meio privado de resolução de disputas, confere rapidez e especialização, enquanto a mediação promove diálogo antes de medidas judiciais. Definir o órgão arbitral, as regras (por exemplo, regulamento da CCI ou da CAM-CCBC) e o local da audiência minimiza incertezas e previne litígios sobre jurisdição.
Quanto à identidade e autenticação, é crucial alinhar mecanismos on-chain e off-chain. No Brasil, contratos de grande valor devem integrar certificados digitais emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que se baseia em criptografia assimétrica: uma chave privada, guardada pelo titular, e uma chave pública, disponibilizada para verificação. Essa combinação gera assinaturas digitais com presunção legal de autoria. Nos Estados Unidos, operadores devem manter logs completos de transações on-chain — registros de endereços de carteira, carimbos de tempo (timestamps) e assinaturas criptográficas em ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) — servindo como prova inequívoca de intenção e consentimento. Na União Europeia, a escolha entre assinatura eletrônica avançada e qualificada, conforme eIDAS, implica requisitos distintos de geração e preservação de certificados; registrar esses certificados em listas oficiais de prestadores de serviços de confiança (Trust Service Provider Lists) assegura interoperabilidade e presunção de validade.
A incorporação de trust services reforça a credibilidade dos smart contracts. Selos eletrônicos, que atestam a origem de documentos subjacentes, e carimbos de tempo (RFC 3161), que validam o instante exato de uma transação, funcionam como extras layers de prova de integridade. Qualified Trust Marks são distintivos conferidos por QTSPs reconhecidos, exibidos em interfaces de usuário para demonstrar conformidade com padrões de segurança. Esses elementos criam camadas adicionais de confiança quando contratos interagem com partes que não possuem familiaridade técnica com blockchain.
No plano de operação e monitoramento, integrar um sistema de Security Information and Event Management (SIEM) permite correlacionar eventos on-chain — como chamadas de função e logs de erro — com alertas de sistemas externos, fornecendo visão consolidada de incidentes. O uso de Hardware Security Modules (HSM) e Key Management Systems (KMS) garante que chaves privadas fiquem armazenadas em ambientes isolados, protegidos contra extração ou uso não autorizado. Já soluções de Endpoint Detection and Response (EDR) e Extended Detection and Response (XDR) monitoram os nós de validação — sejam servidores rodando clientes completos ou nós leves — identificando comportamentos anômalos, como tentativas de exploração de vulnerabilidades de rede ou acesso indevido ao sistema de arquivos.
A adoção dessas práticas técnicas deve ser acompanhada de políticas de governança documental e de compliance alinhadas a normas anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro (AML/KYC). Mapear responsabilidades, definir controles de versionamento de contratos e estabelecer planos de resposta a incidentes — incluindo fluxo de comunicação com equipes de TI, jurídico e, se necessário, autoridades regulatórias — completa o arcabouço de segurança.
Com esses controles técnicos e jurídicos integrados, smart contracts deixam de ser meros experimentos de programação para se tornarem instrumentos contratuais robustos, confiáveis e aptos a suportar a automação de negócios complexos em escala global.
Conclusão
O amadurecimento dos smart contracts sinaliza uma transformação profunda no modo como celebramos e executamos acordos. Mais do que simples linhas de código, eles representam contratos vivos, que operam em um ambiente distribuído, imutável e auditável. Em cada jurisdição analisada — Brasil, Estados Unidos e União Europeia — percebemos trajetórias distintas que refletem culturas regulatórias, prioridades técnicas e graus de confiança institucional.
No Brasil, a adoção dos contratos eletrônicos ganhou robustez com a ICP-Brasil e o reconhecimento jurisprudencial do STJ, mas ainda falta um arcabouço legal que trate expressamente da autoexecução em blockchain. O PL 954/2022 surge como oportunidade única para preencher essa lacuna, definindo não apenas requisitos mínimos para oráculos e governança on-chain, mas também mecanismos de fallback que alinhem a inovação à segurança jurídica consagrada no Código Civil. A aprovação desse projeto será determinante para consolidar o país como ambiente seguro para desenvolvedores, operadores do mercado e advogados especialistas em tecnologia.
Já nos Estados Unidos, a flexibilidade do UETA e do ESIGN Act criou um ambiente favorável à experimentação, apoiado por iniciativas estaduais como Nevada SB 398 e emendas em Delaware. No entanto, a falta de uniformidade entre as leis estaduais impõe desafios de escolha de foro e de cumprimento de múltiplos requisitos. É essencial que quem desenha ou assessora smart contracts em território americano domine tanto as nuances federais quanto as particularidades locais, equilibrando a agilidade concedida pelo mercado com a previsibilidade buscada pelos tribunais.
Na União Europeia, o eIDAS estabelece o patamar mais elevado de confiança eletrônica, combinando presunção legal de autenticidade para assinaturas qualificadas, supervisão rigorosa de Qualified Trust Service Providers e interoperabilidade em todo o bloco. Esse modelo robusto garante segurança elevada, mas também implica custos operacionais e técnicos significativos. Para entidades que atuam em múltiplas jurisdições europeias, a conformidade com padrões como ISO/IEC 27001 e a integração de carimbos de tempo (RFC 3161) e Qualified Trust Marks são imperativos para assegurar a eficácia jurídica e a aceitação em litígios.
Transformar a promessa de “código como lei” em realidade exige mais do que domínio técnico de oráculos, padrões de consenso, Proxy Pattern e auditorias de bytecode. É preciso articular esses elementos a regimes de certificação e autenticação estabelecidos por cada ordenamento, implementando controles de SIEM, HSM, EDR e KMS, mas também redigir cláusulas contratuais que prevejam fallback jurídico por arbitragem ou fórum físico. Somente assim poderemos aliar automação e segurança, garantindo contratos inteligentes operantes, reconhecidos e exequíveis em tribunais.
O horizonte aponta para uma convergência gradual: iniciativas de padronização internacional, novos regulamentos de identidade digital e evoluções do eIDAS (eIDAS 2), emendas ao ESIGN e eventuais réguas regulatórias no Brasil. Profissionais do Direito que abraçarem essa fronteira — munidos de conhecimento técnico e sensibilidade jurídica — terão papel central na consolidação de um ecossistema global de smart contracts, onde o Estado de Direito e a inovação caminham lado a lado.
Referências
Adams, C.; Cain, P.; Pinkas, D.; Zuccherato, R. RFC 3161: Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP). IETF, Standards Track, agosto 2001. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3161
De Filippi, Primavera & Hassan, Samer. “The Expansion of Algorithmic Governance: From Code is Law to Law is Code.” Field Actions Science Reports, n. 17, 2017. Disponível em: https://journals.openedition.org/factsreports/4518
De Filippi, Primavera & Wright, Aaron. Blockchain and the Law: The Rule of Code. Harvard University Press, 2018. Disponível em: https://www.hup.harvard.edu/books/9780674241596
Decreto n.º 10.278/2020. Presidência da República, Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act). U.S. Congress, 2000. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/html/PLAW-106publ229.htm
Lei n.º 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica). Presidência da República, Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
Martins, Tales Daniel Benevides. “Contratos inteligentes e blockchain: desafios e perspectivas no direito atual.” Revista FT, v. 29, ed. 140, nov. 2024. Disponível em: https://revistaft.com.br/contratos-inteligentes-e-blockchain-desafios-e-perspectivas-no-direito-atual/
Projeto de Lei 954/2022. Câmara dos Deputados, Brasil. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2320041
Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS). EUR-Lex, 2014. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/eng
SB 398 (2017), Nevada Legislature. Disponível em: https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/79th2017/Bill/5463/Overview
Uniform Electronic Transactions Act (UETA). Uniform Law Commission, EUA, 1999. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/wex/uniform_electronic_transactions_act
Entre em contato
+5531986992842
© 2024. Todos os direitos reservados
Deixe sua mensagem para que possamos entender a sua necessidade
